|
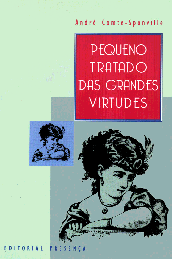
|
É um tema de dissertação,
várias vezes proposto em provas de exame: "Julgar que
há coisas intoleráveis é dar provas de intolerância?"
Ou, de outra forma: "Ser tolerante é tolerar tudo?"
Em ambos os casos, a resposta, evidentemente, é não,
pelo menos se queremos que a tolerância seja uma virtude.
Quem tolerasse a violação, a tortura, o assassinato
deveria ser considerado virtuoso? Quem veria nesta tolerância
do pior uma disposição louvável? Mas se a
resposta não pode ser senão negativa (o que, para
um tema de dissertação, antes constitui uma fraqueza),
a argumentação não deixa de levantar um certo
número de problemas, que são definições
e limitações e que, como imagino, podem ocupar os
nossos alunos durante as quatro horas de prova... Uma dissertação
não é uma sondagem à opinião. É
verdade que importa responder, mas a resposta vale apenas pelos
argumentos que a preparam e justificam. Filosofar é
pensar sem provas (se provas houvesse, deixaria de ser filosofia),
mas não é pensar qualquer coisa (o que, de
resto, não seria pensar) nem de qualquer maneira. A
razão comanda, como nas ciências, mas sem possibilidade
de verificação ou refutação. Porque
não nos contentaremos, então, com as ciências?
Porque não podemos: elas não respondem
a nenhuma das questões que nos pomos, nem mesmo às
que elas próprias nos põem. A questão
"É necessário estudar matemática?" não
é susceptível de uma resposta matemática.
A questão "São as ciências verdadeiras?",
não é susceptível de resposta científica.
Nem tão-pouco, evidentemente, às questões
sobre o sentido da vida, a existência de Deus ou o valor
dos nossos valores... Ora, como renunciar a elas? Temos de
pensar enquanto vivemos e portanto tão longe quanto pudermos,
mais longe do que sabemos. A metafísica é
a verdade da filosofia, mesmo em epistemologia, em filosofia
moral ou política. Tudo está ligado, e liga-nos.
Uma filosofia é um conjunto de opiniões razoáveis:
a coisa é mais difícil e mais necessária
do que se julga.
Dirão que me afasto do tema.
E que não faço uma dissertação. A
escola não dura sempre e tanto melhor. E, de resto, não
é certo que eu me tenha afastado assim tanto da tolerância.
Filosofar, dizia, é pensar sem provas. Nisto intervém
também a tolerância. Quando a verdade é
conhecida com alguma certeza, a tolerância deixa
de ter objecto. Não podemos tolerar que o contabilista
que se engana nos seus cálculos se recuse a corrigi-los.
Nem o físico, quando lhe corre mal uma experiência.
O direito ao erro só vale a parte ante: uma vez
demonstrado o erro, deixa de ser um direito, e não confere
direito algum: perseverar no erro, a parte post, já
não constitui um erro, mas uma falta. Por isso, os matemáticos
não precisam de tolerância. Bastam-lhes as demonstrações
para se sentirem em paz. Quanto àqueles que quereriam
impedir os cientistas de trabalhar ou de exprimir-se (a Igreja,
contra Galileu), o que lhes falta não é em primeiro
lugar a tolerância, mas sim a inteligência,
o amor da verdade. Primeiro, conhecer. O verdadeiro tem a primazia
e impõe-se a todos, nada impondo. Os cientistas não
precisam de tolerância, mas de liberdade.
Que se trata de duas coisas diferentes,
basta a experiência para o atestar. Nenhum cientista pedirá,
ou admitirá sequer, que os seus erros sejam tolerados,
uma vez conhecidos, nem as suas incompetências, dentro da
sua especialidade, uma vez verificadas. Mas também nenhum
deles aceitaria que lhe dissessem o que deve pensar. Não
existe para ele outro constrangimento que não a experiência
e a razão: não existe outro constrangimento além
da verdade pelo menos possível, e é a chamada liberdade
de espírito. Que diferença, relativamente à
tolerância? É que esta (a tolerância)
só intervém na falta de conhecimento; aquela (a
liberdade de espírito) antes seria o próprio conhecimento,
enquanto nos liberta de tudo e de nós mesmos. A verdade
não obedece, dizia Alain; nisto é livre, embora
necessária (ou porque necessária), e torna
livre. "A Terra gira à volta do Sol": aceitar ou não
esta proposição não depende, do ponto de
vista científico, da tolerância. Uma ciência
só avança corrigindo os seus erros: não poderíamos,
portanto, pedir-lhe que os tolerasse.
O problema da tolerância
só se põe em questões de opinião.
Por isso se põe tão frequentemente, ou mesmo quase
sempre. Ignoramos mais do que sabemos e tudo o que sabemos
depende, directa ou indirectamente, de algo que ignoramos.
Quem pode provar absolutamente que a Terra ou o Sol existem? E,
se nem um nem outro existem, que sentido tem afirmar que aquela
gira em torno deste? A mesma proposição que, de
um ponto de vista científico, não depende da tolerância,
pode depender dela de um ponto de vista filosófico, moral
ou religioso. Assim a teoria evolucionista de Darwin: aqueles
que exigem que ela seja tolerada (ou, a fortiori, aqueles
que exigem que seja interditada) não compreenderam o que
tem de científico [1];
mas os que quereriam impô-la autoritariamente como verdade
absoluta do homem e da sua génese dariam, no entanto, provas
de ignorância. A Bíblia não se demonstra
nem se recusa: é, pois, necessário acreditar nela,
ou tolerar que se acredite.
Nisto reencontramos o nosso problema.
Se devemos tolerar a Bíblia, porque não Mein
Kampf? E, se toleramos Mein Kampf, porque não
o racismo, a tortura, os campos de concentração?
Uma tal tolerância universal
seria, por certo, moralmente condenável: porque esqueceria
as vítimas, abandonando-as à sua sorte, deixando
perpetuar o seu martírio. Tolerar é aceitar aquilo
que se poderia condenar, é deixar fazer o que se poderia
impedir ou combater. É, portanto, renunciar a uma parte
do nosso poder, da nossa força, da nossa cólera...
Assim se toleram os caprichos de uma criança ou as posições
de um adversário. Mas só há nisto virtude
na medida em que chamamos a nós, como se costuma dizer,
em que ultrapassamos os nossos interesses, o nosso sofrimento,
a nossa impaciência. A tolerância vale apenas
contra si e a favor de outrem. Não existe tolerância
quando nada temos a perder, e menos ainda quando temos tudo a
ganhar, suportando, ou seja, nada fazendo. "Todos nós
temos força suficiente", dizia La Rochefoucauld, "para
suportar os males dos outros"[2].
Talvez, mas ninguém veria nisto tolerância.
Dizem que Sarajevo era uma cidade de tolerância; abandoná-la
hoje (Dezembro de 1993) ao seu destino de cidade sitiada, faminta,
massacrada, seria para a Europa pura cobardia. Tolerar é
chamar a si: a tolerância lançada sobre outrem não
é tolerância. Tolerar o sofrimento dos outros,
a injustiça de que não somos vítimas, o horror
que nos poupa não é tolerância, mas egoísmo,
indiferença, ou mesmo pior. Tolerar Hitler é
tornar-se cúmplice dele, pelo menos por omissão,
por abandono, e esta tolerância era já colaboração.
Antes o ódio, a fúria, a violência, do que
esta passividade diante do horror, do que esta aceitação
vergonhosa do pior! Uma tolerância universal seria tolerância
do atroz: atroz tolerância!
Mas esta tolerância universal
seria também contraditória, pelo menos na prática,
e por isso não apenas moralmente condenável, como
acabamos de ver, mas politicamente condenada. Foi o que nos mostraram,
em diferentes problemáticas, Karl Popper e Vladimir Jankélévitch.
Levada ao limite, a tolerância "acabaria por negar-se
a si mesma"[3], deixando
as mãos livres àqueles que querem suprimi-la. A
tolerância, portanto, só vale dentro de certos limites,
que são os da sua própria salvaguarda e da preservação
das suas condições de possibilidade. É o
que Karl Popper denomina "o paradoxo da tolerância":
"Se formos de uma tolerância absoluta, mesmo com os intolerantes,
e não defendermos a sociedade tolerante contra os seus
assaltos, os tolerantes serão aniquilados e com eles a
tolerância."[4]
Isto só vale enquanto a humanidade é aquilo que
é, conflituosa, passional, dilacerada, mas por isso mesmo
tem valor. Uma sociedade onde fosse possível uma tolerância
universal deixaria de ser humana e, de resto, não precisaria
de tolerância.
Ao contrário do amor e da generosidade,
que não têm limites intrínsecos, nem finitude
que não a nossa, a tolerância é, por conseguinte,
essencialmente limitada: uma tolerância infinita seria o
fim da tolerância! Não existe liberdade para os inimigos
da liberdade? Não é assim tão simples. Uma
virtude não poderia acantonar-se na intersubjectividade
virtuosa: aquele que só com os justos é justo, só
com os generosos, generoso, só com os misericordiosos,
misericordioso, não é nem justo, nem generoso, nem
misericordioso. Tão-pouco é tolerante aquele que
o é apenas com os tolerantes. Se a tolerância é
uma virtude, como creio e como todos pensam de modo geral, ela
vale portanto por si mesma, inclusivamente para os que não
a praticam. A moral não é nem um negócio
nem um espelho. É verdade que os intolerantes não
poderiam queixar-se, se fôssemos intolerantes com eles.
Mas onde se viu que uma virtude dependa do ponto de vista dos
que a desconhecem? O justo deve ser guiado "pelos princípios
da justiça, e não pelo facto de o injusto poder
queixar-se".[5] Assim
também o tolerante, pelos princípios da tolerância.
Se não devemos tolerar tudo, porque seria votar a tolerância
à perdição, tão-pouco devíamos
renunciar a toda a tolerância para com aqueles que não
a respeitam. Uma democracia que proibisse todos os partidos não
democráticos seria muito pouco democrática, do mesmo
modo que uma democracia que os deixasse fazer tudo o seria demasiado,
ou demasiado mal, estando por isso condenada: porque renunciaria
a defender o direito com a força, sempre que necessário,
e a liberdade com a coacção. O critério não
é aqui moral, mas político. O que deve determinar
a tolerabilidade deste ou daquele indivíduo, grupo ou comportamento,
não é a tolerância de que dão provas
(visto que, nesse caso, haveria que tolerar todos os grupos extremistas
da nossa juventude, dando-lhes assim razão), mas o perigo
efectivo que implicam: uma acção intolerante,
um grupo intolerante, etc., devem ser interditos se, e só
se, ameaçam efectivamente a liberdade ou, em geral, as
condições de possibilidade da tolerância.
Numa República forte e estável, uma manifestação
contra a democracia, contra a tolerância ou contra a liberdade
não basta para a pôr em perigo: não há,
portanto, motivos para a proibir, e pretendê-lo seria faltar
à tolerância. Mas se as instituições
se encontram fragilizadas, se a guerra civil ameaça ou
começou já, se os grupos facciosos ameaçam
tomar o poder, a mesma manifestação pode tornar-se
um perigo: pode então vir a ser necessário proibi-la
e impedi-la, mesmo à força, e seria uma falta de
firmeza ou de prudência recusar-se a considerar esta possibilidade.
Em suma, depende dos casos, e esta "casuística da tolerância",
como diz Jankélévitch[6],
é um dos grandes problemas das nossas democracias. Depois
de termos evocado o paradoxo da tolerância, que faz que
enfraqueçamos à força de querer estendê-la
indefinidamente, Karl Popper acrescenta:
"Não quero com isto
dizer que seja sempre necessário impedir a expressão
de teorias intolerantes. Enquanto fosse possível contrariá-las
à força de argumentos lógicos e contê-las
com a ajuda da opinião pública, seria um erro
proibi-las. Mas é necessário reivindicar o direito
de fazê-lo, mesmo à força, caso se torne
necessário, porque pode muito bem acontecer que os defensores
destas teorias se recusem a qualquer discussão lógica
e respondam aos argumentos pela violência. Haveria então
que considerar que, ao fazê-lo, eles se colocam fora da
lei e que a incitação à intolerância
é tão criminosa como, por exemplo, a incitação
ao assassínio."[7]
Democracia não é
fraqueza. Tolerância não é passividade.
Moralmente condenável e politicamente
condenada, uma tolerância universal não seria, portanto,
nem virtuosa nem viável. Ou por outras palavras: existem,
de facto, coisas intoleráveis, mesmo e sobretudo para
o tolerante! Moralmente, é o sofrimento de outrem, a injustiça,
a opressão, quando poderiam ser impedidos ou combatidos por
um mal menor. Politicamente, é tudo o que ameaça efectivamente
a liberdade, a paz ou a sobrevivência de uma sociedade
(o que supõe uma avaliação, sempre incerta,
dos riscos) e, portanto, é também tudo o que ameaça
a tolerância, quando esta ameaça não é
a simples expressão de uma posição ideológica
(a qual poderia ser tolerada), mas de um perigo real (que deve ser
combatido e à força, se necessário). Isto deixa
lugar à casuística, no melhor dos casos, e à
má-fé, no pior[8],
deixa lugar à democracia, com os seus riscos e as suas incertezas,
que contudo valem mais que o conforto e as certezas do totalitarismo.
O que é o totalitarismo? É
o poder total (de um partido ou do Estado) sobre o todo (de uma
sociedade). Mas, se o totalitarismo se distingue da simples ditadura
ou do absolutismo, é sobretudo pela sua dimensão
ideológica. O totalitarismo nunca é apenas o poder
de um homem ou de um grupo, mas também, e talvez em primeiro
lugar, o poder de uma doutrina, de uma ideologia (muitas vezes
pretensamente científica), de uma "verdade", ou que pretende
sê-lo. A cada tipo de governo o seu princípio, dizia
Montesquieu: assim como uma monarquia que funciona pela honra,
uma república pela virtude e um despotismo pelo ódio,
o totalitarismo, acrescenta Hannah Arendt, funciona pela ideologia
ou (visto do interior) pela "verdade"[9].
Nisto todo o totalitarismo é intolerante: porque a verdade
não se discute, não se vota e nada tem que ver com
as preferências ou opiniões de cada qual. É
como uma tirania da verdade. Nisto também toda a intolerância
tende para o totalitarismo ou, em matéria religiosa, para
o integralismo: só se pode querer impor o seu ponto de
vista em nome da sua verdade suposta, ou melhor, só nestas
condições esta imposição pode pretender-se
legítima. Uma ditadura que se impõe à força
é um despotismo; se se impõe pela ideologia, um
totalitarismo. Compreende-se que a maior parte dos totalitarismos
sejam também despotismos (é preciso que, em caso
de necessidade, a força venha em socorro da Ideia...) e
que, nas nossas sociedades modernas, que são sociedades
de comunicação, a maior parte dos despotismos tendam
para o totalitarismo (é preciso que a Ideia dê razão
à força). Doutrinamento e sistema policial andam
a par. O certo é que a questão da tolerância,
que durante muito tempo não foi mais do que uma questão
religiosa, tende a invadir o todo da vida social, ou melhor, porque
é certamente a inversa que se deve dizer, eis que o sectarismo,
de religioso que começou por ser, se torna no século
XX omnipresente e multiforme, desta vez sob o domínio da
política bem mais do que da religião: daí
o terrorismo, quando o sectarismo está na oposição,
ou o totalitarismo, quando no poder. Talvez um dia possamos sair
desta história, que é a nossa, mas nunca sairemos
da intolerância, do fanatismo, do dogmatismo. Eles renascem
sempre, a cada "verdade" nova. O que é a tolerância?
Respondia Alain: "Um género de sabedoria que vence o fanatismo,
esse temível amor da verdade."[10]
Deveremos então deixar de amar
a verdade? Seria oferecer um belo presente ao totalitarismo, e
quase impedir-nos de combatê-lo! "O sujeito ideal do reino
totalitário", observava Hannah Arendt, "não é
nem o nazi convicto nem o comunista convicto, mas sim o homem
para o qual a distinção entre facto e ficção
(i.e. a realidade da experiência) e a distinção
entre verdadeiro e falso (i.e. as normas do pensamento)
já não existem."[11]
A sofística faz o jogo do totalitarismo: se nada é
verdade, o que opor às suas mentiras? Se não existem
factos, como acusá-lo de mascará-los, de deformá-los,
o que opor à sua propaganda? Porque o totalitarismo, se
tem pretensões à verdade, não pode deixar,
todas as vezes que a verdade frustra as suas expectativas, de
inventar uma outra, mais dócil. Não perco mais tempo
com isto: estes factos são bem conhecidos. O totalitarismo
começa por ser dogmatismo (pretende que a verdade lhe dá
razão e justifica o seu poder) e acaba em sofística
(chama "verdade" àquilo que justifica o seu poder, dando-lhe
razão)... Primeiro a "ciência", depois as lavagens
ao cérebro. Que se trata de falsas verdades ou de falsas
ciências (como o biologismo nazi ou o historicismo estaliniano),
é bem claro, mas o essencial não reside nisto. Um
regime que se apoiasse numa ciência verdadeira -- imaginemos,
por exemplo, uma tirania dos médicos -- não seria
menos totalitário quando pretendesse governar em nome das
suas verdades: porque a verdade nunca governa, nem diz o que é
preciso fazer ou o que é preciso proibir. Como já
recordei, segundo Alain, a verdade não obedece; por isso
é livre. Mas também não comanda, por isso
o somos. É verdade que morremos, mas isso não condena
a vida, nem justifica o assassinato. É verdade que mentimos,
que somos egoístas, infiéis, ingratos... Mas isso
não nos desculpa, nem atribui culpas àqueles que
por vezes são fiéis, generosos ou reconhecidos.
Disjunção das ordens: o verdadeiro não é
o bem; o bem não é o verdadeiro. O conhecimento,
portanto, não substitui a vontade, nem para os povos (nenhuma
ciência, mesmo verdadeira, poderia substituir a democracia)
nem para os indivíduos (nenhuma ciência, mesmo verdadeira,
poderia fazer as vezes de moral)[12].
Nisso todo o totalitarismo fracassa, pelo menos teoricamente:
porque, contrariamente ao que ele afirma, a verdade não
lhe poderia dar razão nem justificar o seu poder. É,
porém, certo que uma verdade não se vota, mas tão-pouco
se governa: todo o governo pode pois, e deve, estar sujeito a
votação.
Longe de ser necessário renunciar
a amar a verdade para ser tolerante, é pelo contrário
este amor -- mas desiludido -- que nos fornece as principais razões
de sê-lo. A primeira destas razões é que amar
a verdade, sobretudo neste campo, é também
reconhecer que nunca a conhecemos absolutamente nem com toda a
certeza. Como vimos, o problema da tolerância só
se põe em questões de opinião. Ora, o
que vem a ser uma opinião senão uma crença
incerta ou, em todo o caso, sem outra certeza que não subjectiva?
O católico bem pode estar subjectivamente certo da verdade
do catolicismo. Mas, se for intelectualmente honesto (se amar
mais a verdade do que a certeza), deverá reconhecer que
é incapaz de convencer um protestante, ateu ou muçulmano,
mesmo cultos, inteligentes e de boa-fé. Por mais convencido
que possa estar de ter razão, cada qual deve, pois, admitir
que não pode prová-lo, permanecendo assim no
mesmo plano que os seus adversários, tão convencidos
como ele e igualmente incapazes de convencê-lo... A tolerância,
como força prática (como virtude), funda-se deste
modo na nossa fraqueza teórica, ou seja, na incapacidade
em que estamos de atingir o absoluto. Montaigne, Bayle, Voltaire
o tinham visto: "Mandar cozer um homem vivo é ter em muito
grande conta as suas conjecturas", dizia o primeiro; "a evidência
é uma qualidade relativa", dizia o segundo; e o terceiro:
"O que é a tolerância? É o apanágio
da humanidade. Todos somos feitos de fraquezas e de erros;
perdoemo-nos uns aos outros as nossas tolices, eis a primeira
lei da natureza."[13]
Nisto a tolerância raia a humildade, ou melhor, decorre
dela, como esta, da boa fé: amar a verdade até ao
fim é também aceitar a dúvida, à qual,
para o homem, ela conduz. Voltaire, mais uma vez: "Devemos
tolerar-nos mutuamente, porque somos todos fracos, inconsequentes,
sujeitos à variação e ao erro. Acaso uma
cana que o vento deitou à lama dirá à cana
vizinha, deitada em sentido contrário: 'Rasteja como eu,
miserável, ou apresento queixa para que sejas arrancada
e queimada'?"[14]
Humildade e misericórdia andam a par e, para o pensamento,
isso leva à tolerância.
A segunda razão prende-se mais
com a política do que com a moral, mais com os limites
do Estado do que com os do conhecimento. Ainda que tivesse acesso
ao absoluto, o soberano seria incapaz de impô-lo a quem
quer que fosse: porque não se pode forçar um indivíduo
a pensar de maneira diferente daquela como pensa, nem a acreditar
que é verdadeiro o que lhe parece falso. Espinoza e
Locke[15] tinham-no
visto e, no século XX, a história dos diferentes
totalitarismos confirma-o. Pode impedir-se um indivíduo
de exprimir aquilo em que acredita, mas não de pensá-lo.
Ou então é preciso suprimir o próprio pensamento,
enfraquecendo assim o Estado... Não existe inteligência
sem liberdade de juízo, nem sociedade próspera sem
inteligência. Um Estado totalitário, portanto,
tem de resignar-se ou à estupidez ou à dissidência,
ou à pobreza ou à crítica... A história
recente dos países de Leste mostra que estes escolhos,
por entre os quais ele pode certamente navegar durante muito tempo,
votam o totalitarismo a um naufrágio tão imprevisível,
na sua forma, como difícil de evitar a mais ou menos longo
prazo...
. É uma felicidade para as nossas
democracias, que explica talvez uma parte da sua força,
que tem surpreendido muita gente, ou enfim a fraqueza dos Estados
totalitários. Nem uma nem outra teriam surpreendido Espinoza,
que fazia do totalitarismo esta descrição antecipada:
"Suponhamos", escrevia, "que esta liberdade (do juízo)
possa ser comprimida e que é possível manter os
homens numa tal dependência que não ousem proferir
uma palavra senão a mando do soberano; ainda assim ele
não conseguiria fazer que não tivessem outros pensamentos
além dos que ele quisera; e assim, por uma consequência
necessária, os homens não deixariam de ter opiniões
em desacordo com a sua linguagem e a boa-fé, primeira necessidade
do Estado, corromper-se-ia; o encorajamento dado à detestável
adulação e à perfídia instauraria
o reino da astúcia e a corrupção de todas
as relações sociais..."[16]
Em suma, a intolerância do Estado (e, portanto, também
o que chamamos totalitarismo) não pode, com o tempo, deixar
de enfraquecê-lo, em consequência do enfraquecimento
dos laços sociais e da consciência de cada qual.
Pelo contrário, num regime tolerante a força do
Estado faz a liberdade dos seus membros, como a sua liberdade
faz a sua força: "O que a segurança do Estado exige
antes de mais", conclui Espinoza, "é certamente que cada
qual submeta a sua acção às leis do soberano
(do povo, portanto, numa democracia), mas também "que
quanto ao resto seja permitido a cada qual pensar o que quiser
e dizer o que pensa"[17].
Que é isto senão o laicismo? E o que é
o laicismo senão a tolerância instituída?
A terceira razão é a que evoquei em primeiro lugar,
mas é talvez, no nosso universo espiritual, a mais recente
e a menos comummente admitida: trata-se do divórcio (ou,
digamos, da independência recíproca) entre
a verdade e o erro, entre a verdade e o bem. Se,
como crêem Platão, Estaline ou João Paulo
II, é a verdade que comanda, não existe outra virtude
além da submissão à verdade. E porque ela
é a mesma para todos, todos devem submeter-se igualmente
aos mesmos valores, às mesmas regras, aos mesmos imperativos:
uma mesma verdade para todos, e portanto uma mesma moral, uma
mesma política, uma mesma religião! Fora da verdade
não existe salvação, fora da Igreja ou do
Partido não existe verdade... O dogmatismo prático,
que pensa o valor como uma verdade, conduz assim à boa
consciência, à suficiência, à rejeição
ou desprezo do outro -- à intolerância. Todos
aqueles que não se submetem à "verdade sobre o bem
e o mal moral", escreve, por exemplo, João Paulo II, "verdade
estabelecida pela "Lei Divina", norma universal e objectiva
da moralidade"[18],
todos esses vivem, pois, no pecado e, se é por certo necessário
lastimá-los e amá-los, não se poderia reconhecer
o seu direito de pensar de maneira diferente: seria cair no subjectivismo,
no relativismo ou no cepticismo[19]
e esquecer "que não existe liberdade fora da verdade nem
contra ela"[20]. Como
a verdade não depende de nós, assim também
a moral: "a verdade moral", como diz João Paulo II[21],
impõe-se a todos e não depende nem das culturas
nem da história nem de uma qualquer autonomia do homem
ou da razão[22].
Que verdade? A "verdade revelada", certamente, tal como a Igreja,
e só a Igreja, a transmite[23]!
Todos os casais católicos que utilizam a pílula
ou o preservativo podem fazer o que quiserem, e também
os teólogos modernos, que nada se modificará: "O
facto de certos crentes agirem sem seguir os ensinamentos do Magistério
ou considerarem como moralmente justo um comportamento que os
seus pastores declararam contrário à Lei de Deus,
não pode constituir um argumento válido para refutar
a verdade das normas morais ensinadas pela Igreja."[24]
Nem tão-pouco o poderia ser a consciência individual
ou colectiva: "É a voz de Jesus Cristo, a voz da verdade
sobre o bem e o mal que na resposta da Igreja se faz ouvir."[25]
A verdade impõe-se a todos, e portanto também a
religião (porque é a verdadeira religião),
também a moral (porque a moral "se funda na verdade")[26].
É uma filosofia de bonecas russas: há que obedecer
à verdade e, portanto, a Deus, à Igreja, ao Papa...
O ateísmo ou a apostasia, por exemplo, são pecados
mortais, ou seja, pecados que, salvo arrependimento, implicam
"a condenação eterna"[27].
Eis, pois, este vosso servidor condenado já duas vezes,
para não falar dos seus outros defeitos, que são
inúmeros... A isto chama João Paulo II "a certeza
reconfortante da fé cristã"[28].
Veritatis terror!
Não quero perder mais tempo com
esta encíclica, que não tem muita importância.
Como as circunstâncias históricas retiram toda a
plausibilidade (pelo menos no Ocidente e a curto ou médio
prazo) a qualquer retrocesso à inquisição
ou à ordem moral, as posições da Igreja,
mesmo intolerantes, devem por certo ser toleradas. Já vimos
que só o perigo inerente a uma atitude (e não a
tolerância ou intolerância de que dá provas)
devia determinar a sua tolerância ou não: feliz
época a nossa, feliz país, onde mesmo as Igrejas
deixaram de ser perigosas! É já passado o
tempo em que podiam queimar Giordano Bruno, supliciar Calas ou
guilhotinar (aos dezanove anos!) o cavaleiro de La Barre...
De resto, servi-me desta encíclica apenas como exemplo,
e para mostrar que o dogmatismo prático conduz sempre,
ainda que de uma forma atenuada, à intolerância.
Se os valores são verdadeiros e conhecidos, não
poderíamos nem discuti-los nem escolhê-los, e portanto
estão errados os que não partilham os nossos: por
isso, não merecem outra tolerância além da
que se pode por vezes ter com os ignorantes ou os imbecis. Mas
porventura é isto ainda tolerância?
Para quem reconheça que valor
e verdade constituem duas ordens diferentes (relevando esta do
conhecimento, aquele, do desejo), existe, pelo contrário,
nesta disjunção uma razão suplementar para
ser tolerante: ainda que tivéssemos acesso a uma verdade
absoluta, isso não obrigaria toda a gente a respeitar os
mesmos valores, ou a viver da mesma maneira. O conhecimento,
que incide sobre o ser, nada nos diz sobre o dever-ser: o
conhecimento não julga, não comanda! A verdade,
é certo, impõe-se a todos, mas não impõe
coisa alguma. Ainda que Deus existisse, porque haveríamos
de aprová-lo sempre? E que direito tenho eu, quer Ele exista
quer não, de impor o meu desejo, a minha vontade ou os
meus valores àqueles que não os partilham? São
necessárias leis comuns? Sem dúvida, mas apenas
nos domínios que nos são comuns! Que me importam
as bizarrias eróticas de fulano e sicrano, se praticadas
entre adultos anuentes? Quanto às leis comuns, se por certo
são necessárias (para impedir o pior, para proteger
os fracos...), cabe à política e à cultura
velarem por isso, as quais são sempre relativas, conflituosas,
evolutivas, e não a alguma verdade absoluta que se nos
impusesse e que, a partir daí, poderíamos impor
legitimamente aos outros. A verdade é a mesma para todos,
mas não o desejo, não a vontade. Isto não
quer dizer que os nossos desejos e as nossas vontades não
possam aproximar-nos nunca: seria surpreendente, uma vez que temos
essencialmente o mesmo corpo, a mesma razão (a qual, se
não constitui inteiramente a moral, pelo menos tem nela
um importante papel) e cada vez mais a mesma cultura... Esta convergência
dos desejos, esta comunhão das vontades, esta aproximação
das civilizações, quando ocorrem, não resultam
de um conhecimento; são um facto da história, um
facto do desejo, um facto de civilização. Que o
cristianismo tenha tido nisto um importante papel, todos o sabem,
e se não desculpa certamente a Inquisição,
a Inquisição tão-pouco poderia apagá-lo.
"Ama, e faz o que quiseres..." Podemos conservar esta moral
do amor sem o dogmatismo da Revelação? Porque não?
Acaso temos de conhecer absolutamente a verdade para a
amar? Acaso precisamos de um Deus para amar o próximo?
Veritatis amor, humanitatis amor... Contra o esplendor
da verdade (porque teria ela de ser esplêndida?), contra
o peso dos dogmas e das Igrejas, a doçura da tolerância...
Podemos perguntar, finalmente, se a
palavra tolerância é, de facto, a que convém:
há nela algo de condescendente, e até de desprezador,
que incomoda. Faz lembrar o dito de Claudel: "Tolerância?
Há casas para isso!" Isto diz muito sobre Claudel, e sobre
a tolerância. Tolerar as opiniões dos outros não
é já considerá-las como inferiores ou faltosas?
Não se pode tolerar, em rigor, senão o que se teria
o direito de impedir: se as opiniões são livres,
como devem ser, não dependem da tolerância! Daqui
um novo paradoxo da tolerância, que parece invalidar a noção.
Se as liberdades de crença, de opinião, de expressão
e de culto são liberdades-direito, então não
precisam de ser toleradas, mas simplesmente respeitadas, protegidas,
celebradas. Só "a insolência de um culto dominador",
observava já Condorcet, pôde "chamar tolerância,
ou seja, uma permissão concedida por uns homens a outros
homens"[29] ao que antes
deveríamos considerar como o respeito por uma liberdade
comum. Cem anos depois, o Vocabulário de Lalande
atesta ainda, no começo do século, reticências
muito numerosas. O respeito pela liberdade religiosa "é
muito mal denominado tolerância", escrevia, por exemplo,
Renouvier, "porque é estrita justiça e obrigação
plena". Reticências também em Louis Prat: "Não
se deveria dizer tolerância, mas respeito; caso contrário,
a dignidade moral é atingida... A palavra tolerância
implica muitas vezes, na nossa língua, a ideia de polidez,
por vezes de piedade, ou ainda de indiferença; por isso,
talvez, a ideia do respeito devido à liberdade leal de
pensar é falseada na maior parte dos espíritos."
Reticências ainda em Emile Boutroux: "Não gosto da
palavra tolerância, falemos de respeito, de simpatia,
de amor..."[30] Todas
estas observações são justificadas, mas nada
puderam contra o uso. Note-se, de resto, que o adjectivo respeitoso
não evoca o respeito pela liberdade dos outros, nem pela
sua dignidade, mas uma espécie de deferência ou de
consideração que pode muitas vezes parecer suspeita
e que não caberia num tratado das virtudes... Tolerante,
pelo contrário, impôs-se, tanto na linguagem corrente
como filosófica, para designar a virtude que se opõe
ao fanatismo, ao sectarismo, ao autoritarismo, enfim, à
intolerância. Este uso não me parece destituído
de razão, pois reflecte, na própria virtude que
a ultrapassa, a intolerância de cada qual. Em rigor, dizia,
não se pode tolerar senão o que se tem o direito
de impedir, de condenar, de proibir. Mas acontece que este direito
que não possuímos nos inspira quase sempre o sentimento
de possuí-lo. Não temos razão de pensar o
que pensamos? E, se temos razão, como não estariam
os outros errados? E como poderia a verdade aceitar -- senão,
de facto, por tolerância -- a existência ou
a continuação do erro? O dogmatismo renasce sempre
e não é mais do que um amor ilusório e egoísta
da verdade. Por isso damos o nome de tolerância àquilo
que, se fôssemos mais lúcidos, mais generosos, mais
justos, deveria chamar-se respeito, ou simpatia, ou amor... É,
portanto, a palavra que convém, porque não há
amor, nem simpatia, nem respeito. A palavra tolerância
só nos incomoda porque -- mais uma vez -- não é
melhor, não é muito melhor do que nós somos.
"Virtude menor", dizia Jankélévitch[31].
Porque se parece connosco. "Tolerar não é, evidentemente,
um ideal", observava já Abauzit, "não é um
máximo, mas um mínimo"[32].
Claro, mas é melhor que nada ou que o seu contrário!
-- Que o respeito ou o amor valem mais, é evidente. Se,
contudo, a palavra tolerância se impôs, foi
certamente porque nos sentimos muito pouco capazes de amor ou
de respeito quando se trata dos nossos adversários -- ora,
é, em primeiro lugar, para eles que a tolerância
é necessária... "Enquanto não desponta o
belo dia em que a tolerância se tornará amável",
conclui Jankélévitch, "diremos que a tolerância,
a prosaica tolerância é o que de melhor podemos fazer!
A tolerância -- por muito pouco exaltante que seja a palavra
-- é pois uma solução sofrível; entretanto,
ou seja, até que os homens possam amar, ou simplesmente
conhecer-se e compreender-se, podemos dar-nos por felizes por
começarem a suportar-se. A tolerância, portanto,
é um momento provisório".[33]
Que este provisório está para durar, é bem
claro: e, se cessasse, seria de temer que lhe sucedesse a barbárie,
e não o amor! Pequena virtude, também, a tolerância
tem talvez na vida colectiva o mesmo papel que a polidez na vida
interpessoal[34]: é
apenas um começo, mas já é algum.
Sem contar que é por vezes necessário
tolerar o que não queremos nem respeitar nem amar. O
desrespeito não é sempre uma falta, longe disso,
e alguns ódios estão bem perto de ser virtudes.
Existem, como vimos, coisas intoleráveis que temos de combater.
Mas também coisas toleráveis que são, no
entanto, desprezíveis e detestáveis. A tolerância
diz tudo isto, ou pelo menos autoriza-o. Esta pequena virtude
convém-nos: está ao nosso alcance, o que não
é assim tão frequente, e parece-nos que alguns dos
nossos adversários não merecem mais...
Assim como a simplicidade é
a virtude dos sábios e a sabedoria a dos santos, a tolerância
é sabedoria e virtude para aqueles -- todos nós
-- que não são nem uma nem outra coisa.
Pequena virtude, mas necessária.
Pequena sabedoria, mas acessível.
[1] O que não
significa que ela seja verdadeira, mas simplesmente que, se for
falsa, deve ser possível demonstrá-lo (vide
K. Popper, A Lógica da Descoberta Científica,
trad. franc. Payot, 1973), nem que é apenas ou totalmente
científica (vide K. Popper, A Busca Inacabada, trad.
franc., Presses Pocket, reed. 1989, cap. 37), mas simplesmente
que há nela uma parte que escapa à opinião,
e portanto também à tolerância. [Voltar
ao texto]
[2] Maximes et réflexions, 19.
[Voltar ao texto]
[3] V. Jankélévitch, Traité
des vertus, II, 2, p. 92 da ed. Champs-Flammarion (1986).
[Voltar ao texto]
[4] A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos,
trad. franc., Seuil, 1979, t. l, n. 4 do cap. 7 (p. 222). [Voltar
ao texto]
[5] J. Rawls, Teoria da Justiça,
II, 4, secção 35, p. 256 da trad. franc., Seuil,
1987. [Voltar ao texto]
[6] Op. cit., p. 93. [Voltar
ao texto]
[7] Op. cit.. p. 222. Vide ainda
o texto já citado de Rawls, especialmente, pp. 254-256.
[Voltar ao texto]
[8] Vide Jankélévitch, op. cit.,
p. 93. [Voltar ao texto]
[9] Montesquieu, L'esprit des lois, III.
1-9; Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, t. 3:
O Sistema Totalitário, cap. 4 ("Ideologia e terror:
um novo tipo de regime"), pp. 203 e ss. da trad. franc., Seuil,
col. "Points Politique", 1972. Sobre o caso particular do estalinismo,
vide ainda Le mythe d'lcare. cap. 2. [Voltar
ao texto]
[10] Définitions, Pléiade,
Les arts et les dieux, p. 1095 (definição
da tolerância). [Voltar ao texto]
[11] Op. cit., p. 224. [Voltar
ao texto]
[12] Sobre tudo isto, que aqui posso apenas
esboçar, vide Valeur et véríté
(études cyniques), PUF, 1994.[Voltar
ao texto]
[13] Montaigne, Essais, III, 11, p. 1032
da ed. Villey-Saulnier; Bayle, De la tolérance (Commentaire
philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ "Contrains-les
d'entrer"), p. 189 da ed. Gros, Presses Pocket, 1992; Voltaire,
Dictionnaire philosophique, art. "Tolérance", pp.
362-363 da ed. Pomeau, G.-F., 1964 (vide ainda, do mesmo
autor, o Traité sur la tolérance, em especial
cap. 21, 22 e 25, pp. 132 e ss. da ed. Pomeau, G.-F., 1989). Esta
ideia mantém-se, decerto, perfeitamente actual: vide
K. Popper, Conjecturas e refutações, pp.
36-37 da trad. franc., Payot, 1985. [Voltar
ao texto]
[14] Dictionnaire philosophique, p. 368.
Sobre a ideia de tolerância no século XVIII, vide
E. Cassirer, A Filosofia das Luzes, IV, 2, pp. 223-247
da trad. franc. (Fayard, reed. "Agora", 1986). [Voltar
ao texto]
[15] Espinoza, Tratado Teológico-Político
(sobretudo cap. 20); Locke, Carta Sobre a Tolerância
(recentemente reeditada, com uma longa e muito rica introdução
de J.-F. Spitz, G.-F., 1992). [Voltar ao texto]
[16] Tratado Teológico-Político,
cap. 20, p. 332 da ed. Appuhn, reed. G.-F., 1965. [Voltar
ao texto]
[17] Ibid., p. 336 da ed. Appuhn. [Voltar
ao texto]
[18] Verítatis splendor (o esplendor
da verdade), encíclica de João Paulo II, trad.
franc., Mame/Plon, 1993, p. 95 (sublinhados de João Paulo
II). [Voltar ao texto]
[19] Vide. por ex., ibid., pp. 4, 133,
156, 163 e 172. [Voltar ao texto]
[20] Ibid., p. 150. [Voltar
ao texto]
[21] Por ex., pp. 146 e 149. Vide ainda pp.
157, 170 e 180. [Voltar ao texto]
[22] Ibid., sobretudo §§ 35-37
(contra a autonomia) e 53 (contra o relativismo cultural e histórico).
[Voltar ao texto]
[23] Ibid., por ex. §§ 29,
37 e 109-117. [Voltar ao texto]
[24] Ibid., p. 172 [Voltar
ao texto]
[25] Ibid., p. 180 (sublinhado de João
Paulo II). [Voltar ao texto]
[26] Ibid., p. 157. Vide ainda
pp. 152-153. [Voltar ao texto]
[27] Ibid., pp. 109-112. [Voltar
ao texto]
[28] Ibid., p. 182.[Voltar
ao texto]
[29] Esquisse d'un tableau historique des
progrès de l'esprit humain, VIII, p. 129 da ed. Prior,
Vrin, 1970. [Voltar ao texto]
[30] Todas estas citações são
extraídas do sempre preciso Vocabulaire technique et
critique de la philosophie, Lalande, Bulletin de la Société
française de philosophie, 1902-1923, reed. PUF, 1968, pp.
1133-1136 (art. "Tolérance"). Encontramos reticências
do mesmo tipo no já citado capítulo de Jankélévitch
(pp. 86 e ss.). [Voltar ao texto]
[31] Op. cit., pp. 86 e 94. [Voltar
ao texto]
[32] F. Abauzit, na discussão da Sociedade
Francesa de Filosofia, Vocabulaire de Lalande, p. 1134.
A mesma ideia em Jankélévitch, op. cit.,
p. 87. [Voltar ao texto]
[33] Op. cit., pp. 101-102. [Voltar
ao texto]
[34] Cf. supra, cap. l, pp. 17 e ss.
A expressão "pequena virtude", que utilizei a propósito
da polidez, é usada por Jankélévitch a propósito
da tolerância (op. cit., p. 86). [Voltar
ao texto]
(COMTE-SPONVILLE, André - Pequeno
Tratado das Grandes Virtudes. Lisboa : Ed. Presença,
1995, p. 170-185)
[A propósito da Carta
Sobre a Tolerância de John
Locke]
[Selecção e destaques (sublinhados e negritos)
de J. Costa, Viseu,
Fev.2000]
|